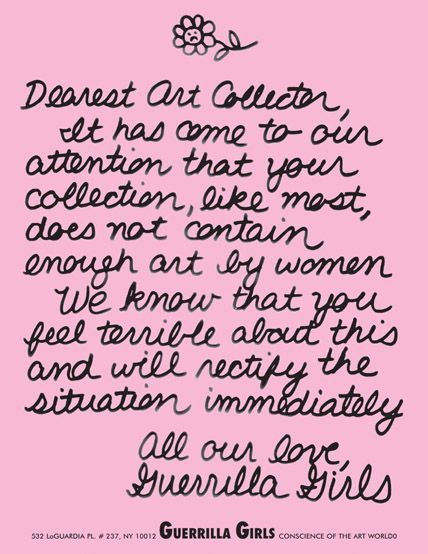Text
Grande Sertão: Veredas | João Guimarães Rosa
“Um dia, sem dizer o que a quem, montei a cavalo e saí, a vão, escapado. Arte que eu caçava outra gente, diferente. E marchei duas léguas. O mundo estava vazio. Boi e boi. Boi e boi e campo. Eu tocava seguindo por trilhos de vacas. Atravessei um ribeirão verde, com os umbùzeiros e ingazeiros debruçados - e ali era vau de gado. ‘Quanto mais ando, querendo pessoas, parece que entro mais no sozinho do vago...’ - foi o que pensei, na ocasião. De pensar assim me desvalendo. Eu tinha culpa de tudo, na minha vida, e não sabia como não ter. Apertou em mim aquela tristeza, da pior de todas, que é a sem razão de motivo; que, quando notei que estava com dôr-de-cabeça, e achei que por certo a tristeza vinha era daquilo, isso até me serviu de bom consolo. E eu nem sabia mais o montante que queria, nem aonde eu extenso ia. O tanto assim, que até um corguinho que defrontei - um riachim à tôa de branquinho - olhou para mim e disse: - Não... - e eu tive que obedecer a ele. Era para eu não ir mais para diante. O riachinho me tomava a benção. Apeei. O bom da vida é para o cavalo, que vê capim e come. Então, deitei, baixei o chapéu e tapa-cara. Eu vinha tão afogado. Dormi, deitado num pelego. Quando a gente dorme, vira de tudo: vira pedras, vira flôr. O que sinto, e esforço em dizer ao senhor, respondo minhas lembranças, não consigo; por tanto é que refiro tudo nestas fantasias. Mas eu estava dormindo era para reconfirmar minha sorte. Hoje, sei. E sei que em cada virada de campo, e debaixo de sombra de cada árvore, está dia e noite um diabo, que não dá movimento, tomando conta. Um que é o romãozinho, é um diabo menino, que corre adiante da gente, alumiando com lanterninha, em o meio certo do sono. Dormi, nos ventos. Quando acordei, não cri: tudo o que é bonito é absurdo - Deus estável. Ouro e prata que Diadorim aparecia ali, a uns dois passos de mim, me vigiava.
Sério, quieto, feito ele mesmo, só igual a ele mesmo nesta vida. Tinha notado minha ideia de fugir, tinha me rastreado, me encontrado. Não sorriu, não falou nada. Eu também não falei. O calor do dia abrandava. Naqueles olhos e tanto de Diadorim, o verde mudava sempre, como a água de todos os rios em seus lugares ensombrados. Aquele verde, arenoso, mas tão moço, tinha muita velhice, muita velhice, querendo me contar coisas que a ideia da gente não dá para se entender - e acho que é por isso que a gente morre. De Diadorim ter vindo, e ficar esbarrado ali, esperando meu acordar e me vendo meu dormir, era engraçado, era para se dar feliz risada. Não dei. Nem pude nem quis. Apanhei foi o silêncio dum sentimento, feito um decreto: - Que você em sua vida toda toda por diante, tem de ficar para mim, Riobaldo, pegado em mim, sempre!... - que era como se Diadorim estivesse dizendo. Montamos, viemos voltando. E, digo ao senhor como foi que eu gostava de Diadorim: que foi que, em hora nenhuma, vez nenhuma, eu nunca tive vontade de rir dele.
(...) Aquele lugar, o ar. Primeiro, fiquei sabendo que gostava de Diadorim - de amor mesmo amor, mal encoberto em amizade. Me a mim, foi de repente, que aquilo se esclareceu: falei comigo. Não tive assombro, não achei ruim, não me reprovei - na hora. Melhor alembro. Eu estava sozinho, num repartimento dum rancho, rancho velho de tropeiro, eu estava deitado numa esteira de taquara. Ao perto de mim, minhas armas. Com aquelas, reluzentes nos canos, de cuidadas tão bem, eu mandava a morte em outros, com a distância de tantas braças. Como é que, dum mesmo jeito, se podia mandar o amor? O rancho era na borda-da-mata. De tarde, como estava sendo, esfriava um pouco, por pêjo de vento - o que vem da Serra do Espinhaço - um vento com todas almas. Arrepio que fuchicava as folhagens ali, e ia, lá adiante longe, na baixada do rio, balançar esfiapado o pendão branco das canabravas. Por lá, nas beiras, cantava era o joão-pobre, pardo, banhador. Me deu saudade de algum buritizal, na ida duma vereda em campim tem-te que verde, termo da chapada. Saudades, dessas que respondem ao vento; saudade dos Gerais. O senhor vê: o remôo do vento nas palmas dos buritis todos, quando é ameaço de tempestade. Alguém esquece isso? O vento é verde. Aí, no intervalo, o senhor pega o silêncio põe no colo. Eu sou donde eu nasci. Sou de outros lugares. Mas, lá na Guararavacã, eu estava bem. O gado ainda pastava, meu vizinho, cheiro de boi sempre alegria faz. Os quem-quem, aos casais, corriam, catavam, permeio às reses, no liso do campo claro. Mas, nas árvores, pica-pau bate e grita. E escutei o barulho, vindo do dentro do mato, de um macuco - sempre solerte. Era mês de macuco ainda passear solitário - macho e fêmea desemparelhados, cada um por si. E o macuco vinha andando, sarandando, macucando: aquilo ele ciscava no chão, feito galinha de casa. Eu ri - ‘Vigia este, Diadorim!’ - eu disse; pensei que Diadorim estivesse em voz de alcance. Ele não estava. O macuco me olhou, de cabecinha alta. Ele tinha vindo quase endireito em mim, por pouco entrou no rancho. Me olhou, rolou os olhos. Aquele pássaro procurava o que? Vinha me pôr quebrantos. Eu podia dar nele um tiro certeiro. Mas retardei. Não dei. Peguei só num pé de espora, joguei no lado donde ele. Ele deu um susto, trazendo as asas para diante, feito quisesse esconder a cabeça, cambalhota fosse virar. Daí, caminhou primeiro até de costas, fugiu-se, entrou outra vez no mato, vero, foi caçar poleiro para o bom adormecer.
O nome de Diadorim, que eu tinha falado, permaneceu em mim. Me abracei com ele. Mel se sente é todo lambente - ‘Diadorim, meu amor...’ Como era que eu podia dizer aquilo? Explico ao senhor: como se drede fosse para eu não ter vergonha maior, o pensamento dele que em mim escorreu figurava diferente, um Diadorim assim meio singular, por fantasma, apartado completo do viver comum, desmisturado de todos, de todas as outras pessoas - como quando a chuva entre-onde-os-campos. Um Diadorim só para mim. Tudo tem seus mistérios. Eu não sabia. Mas, com minha mente, eu abraçava com meu corpo aquele Diadorim - que não era de verdade. Não era? A ver que a gente não pode explicar essas coisas. Eu devia de ter principiado a pensar nele do jeito de que decerto cobra pensa: quando mais-olha para um passarinho pegar. Mas - de dentro de mim: uma serepente. Aquilo me transformava, me fazia crescer dum modo, que doía e prazia. Aquela hora, eu pudesse morrer, não me importava.
O que sei, tinha sido o que foi: no durar daqueles antes meses, de estropelias e guerras, no meio de tantos jagunços, e quase sem espairecimento nenhum, o sentir tinha estado sempre em mim, mas amortecido, rebuçado. Eu tinha gostado em dormência de Diadorim, sem mais perceber, no fofo dum costume. Mas, agora, manava em hora, o claro que rompia, rebentava. Era e era. Sobrestive um momento, fechados os olhos, sufruía aquilo, com outras minhas forças. Daí, levantei.
Levantei, por uma precisão de certificar, de saber se era firma exato. Só o que a gente pode pensar em pé - isso é que vale. Aí fui até lá, na beira dum fogo, onde Diadorim estava, com o Drumõo, o Paspe e Jesualdo. Olhei bem para ele, de carne ôsso; eu carecia de olhar, até gastar a imagem falsa do outro Diadorim, que eu tinha inventado. - ‘Hê, Riobaldo, eh, uê, você carece de alguma coisa?’ - ele me perguntou, quem-me-vê, com o certo espanto. Eu pedi um tição, acendi um cigarro. Daí, voltei para o rancho, devagar, passos que dava. ‘Se é o que é’ - eu pensei - ‘eu estou meio perdido...’ Acertei minha ideia: eu não podia, por lei de rei, admitir o extrato daquilo. Ia, por paz de honra e tenência, sacar esquecimento daquilo de mim. Se não, pudesse não, ah, mas então eu devia de quebrar o morro: acabar comigo! - com uma bala no lado de minha cabeça, eu num átimo punha barra em tudo. Ou eu fugia - virava longe no mundo, pisava nos espaços, fazia todas as estradas. Rangi nisso - consolo que me determinou. Ah, então eu estava meio salvo! Aperrei o nagã, precisei de dar um tiro - no mato - um tiraço que ribombou. - ‘Ao que foi?’ - me gritaram pergunta, sempre riam do tiro tôlo dado. - ‘Acho que um macaquinho miúdo, que acho que errei...’ - eu expendi. Tanto também, fiz de conta estivesse olhando Diadorim, encarando, para duro, calado comigo, me dizer: ‘Nego que gosto de você, no mal. Gosto, mas só como amigo!...’ Assaz mesmo me disse. De por diante, acostumei a me dizer isso, sempres vezes, quando perto de Diadorim eu estava. E eu mesmo acreditei. Ah, meu senhor! - como se o obedecer do amor não fosse sempre ao contrário... O senhor vê, nos Gerais longe: nuns lugares, encostando o ouvido no chão, se escuta barulho de fortes águas, que vão rolando debaixo da terra. O senhor dorme em sobre um rio?”
Grande Sertão: Veredas - João Guimarães Rosa, 22ª edição (2019), p. 209-212.
1 note
·
View note
Text
Os Três Mal-Amados | João Cabral de Melo Neto (1943)
Falas de Joaquim:
“O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome.
O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida de meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho de meus chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos.
O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas. Comeu minhas aspirinas, minhas ondas-curtas, meus raios-X. Comeu meus testes mentais, meus exames de urina.
O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. Comeu em meus livros de prosa as citações em verso. Comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos.
Faminto, o amor devorou os utensílios de meu uso: pente, navalha, escovas, tesouras de unhas, canivete. Faminto ainda, o amor devorou o uso de meus utensílios: meus banhos frios, a ópera cantada no banheiro, o aquecedor de água de fogo morto mas que parecia uma usina.
O amor comeu as frutas postas sobre a mesa. Bebeu a água dos copos e das quartinhas. Comeu o pão de propósito escondido. Bebeu as lágrimas dos olhos que, ninguém o sabia, estavam cheios de água.
O amor voltou para comer os papéis onde irrefletidamente eu tornara a escrever meu nome.
O amor roeu minha infância, de dedos sujos de tinta, cabelo caindo nos olhos, botinas nunca engraxadas. O amor roeu o menino esquivo, sempre nos cantos, e que riscava os livros, mordia o lápis, andava na rua chutando pedras. Roeu as conversas, junto à bomba de gasolina do largo, com os primos que tudo sabiam sobre passarinhos, sobre uma mulher, sobre marcas de automóvel.
O amor comeu meu Estado e minha cidade. Drenou a água morta dos mangues, aboliu a maré. Comeu os mangues crespos e de folhas duras, comeu o verde ácido das plantas de cana cobrindo os morros regulares, cortados pelas barreiras vermelhas, pelo trenzinho preto, pelas chaminés. Comeu o cheiro de cana cortada e o cheiro de maresia. Comeu até essas coisas de que eu desesperava por não saber falar delas em verso.
O amor comeu até os dias ainda não anunciados nas folhinhas. Comeu os minutos de adiantamento de meu relógio, os anos que as linhas de minha mão asseguravam. Comeu o futuro grande atleta, o futuro grande poeta. Comeu as futuras viagens em volta da terra, as futuras estantes em volta da sala.
O amor comeu minha paz e minha guerra. Meu dia e minha noite. Meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte.”
0 notes
Video
youtube
Ain't Got No, I Got Life - Nina Simone
2 notes
·
View notes
Audio
1 note
·
View note